Alegoria da polarização
Alegoria da polarização: dois ideais nascem de uma moeda e se tornam polos rivais. O conto pergunta como conviver com valores em choque sem ceder ao ruído das tribos.

Um leve tremor percorreu as tábuas da taberna vazia. A moeda de um franco, esquecida no tampo engordurado, escorregou como quem encontra seu destino e rolou até um orifício do tamanho exato dela — não o bastante para tragá-la, apenas para retê-la pela metade, como se a terra quisesse guardá-la sem perdê-la.
Do fundo desse orifício, que parecia descer às entranhas do mundo, subiu um líquido viscoso e quente, de um dourado muito brilhante. Abraçou o metal e o acendeu. O brilho era tão agudo que acordou o bêbado encostado na parede do outro lado da rua. Ele esfregou os olhos, disposto a culpar o vinho, mas a luz tinha um desenho próprio: um triângulo invertido, do tamanho de uma pessoa.
Na face da moeda, uma mulher semeia ao vento. No verso, um número solitário ao centro e um ramo de oliveira, ladeados por três palavras quase apagadas pelo tempo — letras gastas que ainda sussurravam como se fossem um juramento antigo. O bêbado jurou ter visto nelas a promessa de um mundo novo, mas o brilho era mais forte que as letras.
Dizem que Hefesto gravou aquela moeda; Hermes, risonho, foi o autor do tremor que lançou-a ao chão, curioso para ver em que mãos cairia.
A Moeda então fisgou a própria imagem e a puxou para fora, como quem arranca um pano debaixo de copos. O metal se retorceu em silêncio. O triângulo de luz projetou um corpo, depois outro, como páginas que se descolam.
Saíram dois corpos femininos – exatamente iguais à figura feminina retratada na moeda. A primeira vestia azul; a segunda, branco. Puseram-se uma à esquerda e outra à direita do homem que assistia à cena. Seu olhar, tentando abarcar as duas ao mesmo tempo, turvou. A claridade cresceu até cegá-lo. As duas sorriram e buscaram o toque; foram repelidas. Insistiram; repelidas de novo, como os mesmos polos de um ímã. O gesto virou estranheza e, num instante, um ódio inaugural — se existe amor à primeira vista, ali inaugurou-se o seu contrário.
Deram-se nomes. A de branco chamou-se Anne. A de azul chamou-se Maria.
As duas saíram da Moeda como se fossem um mesmo rosto partido ao meio. Ainda traziam, no brilho da pele, a lembrança de uma unidade perdida — como se em algum tempo remoto fossem uma só mulher. Agora, porém, respondiam por nomes distintos: Maria e Anne.
O brilho na borda do buraco vacilou, como chama diante do vento, e quase se extinguiu. Ainda assim, alguma coisa lutava para nascer. Uma terceira figura cravou as mãos no aro de metal e puxou-se para fora com esforço de parto: um tecido vermelho, um rosto cansado, um sopro. Filotes.
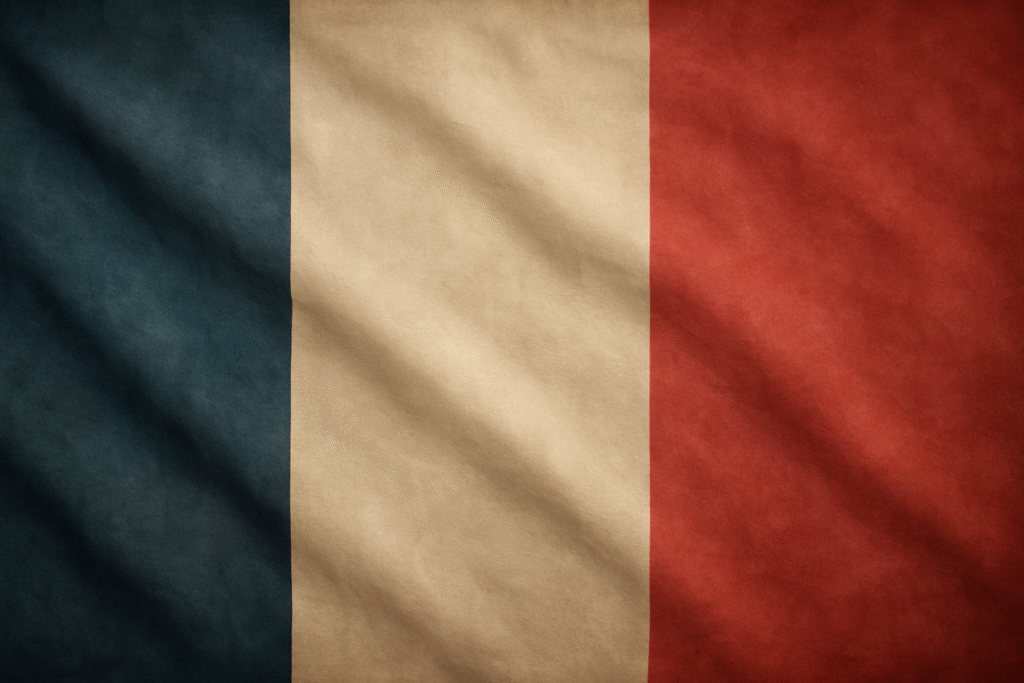
Filotes não encontrou lugar. Andou sem rumo, invisível o suficiente para que só um ou outro sentisse um arrepio à sua passagem. O mundo, naquele momento, estava relativamente em paz: sem Terror, sem grandes guerras, sem cataclismo em curso. E foi nesse sossego que ela começou a se desfazer. Descobriu, com uma tristeza quieta, que sua força dependia do incêndio: sua chama crescia debaixo de ruínas, debaixo de sirenes, debaixo de mãos que tiram pedras de escombros. No descanso, virava rumor.
À beira de um vinhedo antigo de pinot noir, desses que parecem ter raízes na memória, Filotes começou a beber até perder a compostura. Caiu e, no tropeço último, afogou-se no próprio vômito. O corpo se rompeu em partículas douradas que o vento dispersou entre as parreiras. Alguns passantes juraram ver, por um segundo, uma poeira brilhante colar-se à pele das uvas. Outros nem isso.
Maria seguiu pelo Oeste. Encontrou uma raposa – que sabia de muitas coisas – e a adotou como companheira inseparável. Não se largavam. Cada vez mais a Oeste, o vento das pradarias a saudava com poeira e ossos. Caminhou entre bisões que a olhavam com respeito e lobos que a seguiam com devoção. Os lobos vinham em bandos, pedindo caminho, clamando por espaço, mas sempre com a boca úmida. Maria sabia que, sozinha, corria o risco de que a devoção virasse fome. A raposa a advertia com frases curtas, afiadas como dentes: “excesso de caminho vira abismo”.
Os lobos, entretanto, sempre vinham. Rodeavam-na, pedindo favores e proteção. Maria advertiu-os:
— Se não contiverem o apetite, não lhes restarão ovelhas.
Riram, dentes úmidos à mostra:
— Se acabarem aqui, buscaremos ao Sul. Falam que no Sul há muitas, e mais fáceis de capturar.
Maria estremeceu. Qualquer ideal sem freios, pensou, é também fome disfarçada.
Anne avançava pelo Leste com sua veste branca já marcada de poeira.
Encontrou então um ouriço, que se enrolou de imediato em sua saia branca. Ela o acolheu. O ouriço a acompanhava sempre, com passos curtos e obstinados. Ele segredou-lhe no ouvido uma coisa grande que sabia. Anne ficou impressionada com sua inteligência.
Foi nesse tempo que Anne conheceu uma mulher de olhos oblíquos e voz modulada, capaz de enfeitiçar mesmo os pássaros que a sobrevoavam. Chamava-se Pisinoe. Seu canto não era voltado aos sentidos, mas à inteligência: uma melodia tecida de conceitos, hipóteses e promessas. Tornava claro o obscuro, simples o complexo, inevitável o improvável.
— Quem é ela? — perguntou Maria à raposa, quando ouviu rumores vindos do Leste.
— É a sereia dos sábios — respondeu a raposa. — Seu nome é antigo. Ela não encanta marinheiros, mas intelectuais. Sua magia só atinge mentes privilegiadas.
Pisinoe fez amizade íntima com Anne. Deu-lhe não apenas companhia, mas um dom: bastava pronunciar o nome de Anne em certas assembleias para que tudo se tornasse evidente, como se um véu caísse dos olhos. Professores repetiam suas fórmulas com devoção de iniciados; jovens brilhantes acreditavam ter encontrado o mapa definitivo da humanidade.
Esse dom era uma espécie de ópio invisível — não entorpecia, mas fazia crer que cada problema tinha uma perfeita e única solução, bastando descobrir a teoria correta – facilmente encontrada pelos eleitos que sabem ler as leis históricas. Esse ópio não agia nos sentidos; agia na mente: não trazia esquecimento, mas a ilusão da clareza absoluta. Quem o inalava já não aceitava dúvidas; cada pergunta tinha resposta, cada sombra tinha luz, cada dor tinha cálculo.
Os sábios o invocavam sem pensar: quando se viam sem argumentos, murmuravam o nome de Anne — e de súbito tudo parecia claro. Estudantes repetiam fórmulas como quem recita versos sagrados: “minoria, opressor, neoliberalismo”. Ninguém jamais vira um neoliberal em carne e osso, mas a palavra, dita em tom solene, era suficiente para ordenar aplausos ou vaias.
Era um feitiço discreto: bastava o sopro de Pisinoe para que vocábulos se tornassem respostas em si mesmos, fechando as portas do pensamento. Quem perguntava “por quê?” era visto como ingênuo; quem pedia definições era acusado de má-fé. As palavras, encantadas, dispensavam estudo, história, nuance. Brilhavam como moedas falsas que, de tão perfeitas, enganavam até os ourives.
No entanto, Maria também percebia algo que nem Anne via: Pisinoe não dava respostas, apenas alimentava o vício da certeza. Cada nova explicação exigia outra, e mais outra, numa cadeia infinita. O canto das sereias, pensou Maria, não afoga; embriaga até a inconsciência.
Anne seguiu cada vez mais próxima de Pisinoe. Já não falava com camponeses ou proletários, nem ouvia as vozes das ruas; passava os dias em assembleias e noites em bibliotecas, repetindo palavras que pareciam ter vida própria: revolução, estrutura, poder. Os que a escutavam sentiam-se iluminados, como se cada termo fosse uma chave. Mas nenhuma chave abria portas; todas abriam apenas outras palavras.
O ouriço, sempre enrolado a seus pés, lembrava-lhe com seus espinhos que o mundo podia ser reduzido a uma única grande ideia — e que ideias também ferem. Anne acreditava nisso: que, se a humanidade se entregasse às fórmulas, tudo se resolveria. Pisinoe sorria e afinava a melodia, e o Leste inteiro parecia embriagado de certeza.
Entre os ouvintes, havia sempre um homem solitário, silencioso, que anotava em cadernos o que via e ouvia. Não zombava, não discutia, apenas registrava com amargura que as teorias podiam ser mais intoxicantes que o álcool e mais viciantes que qualquer fumo. Usava sempre um casaco cinza, exilado entre jornais e anfiteatros. Dizia, em voz baixa, que certos mitos são vistos de trás para diante: as grandes revoluções brilham mais nos relatos do que na vida, e os heróis do presente costumam confundir memórias com profecias. Poucos o escutavam; ainda assim, suas advertências ficavam no ar como fumaça que não se dissipa, como um aviso que ainda ecoaria.
Certa vez em suas andanças pelo Leste, numa Clareira Limpa, Anne encontrou um velho leão que ensinava crianças pobres. Perguntou-lhe sobre os homens que a seguiam com planos grandiosos para transformar tudo, planejadores com seus planos perfeitos. O leão respondeu:
— Não confie demasiado nos que erguem teorias como altares. Conheci um general chamado Pfuhl que chegava a alegrar-se com o fracasso: podia então dizer que sua teoria não fora aplicada corretamente. Há pensadores assim; preferem salvar a teoria a salvar as pessoas.
Anne ouviu, mas não aceitou o conselho. Pisinoe já soprava que todo fracasso era da prática, não da ideia.
Entre os que seguiam Maria, alguns começaram a crescer em número e em fúria. Eram imunes ao canto de Pisinoe e riam daqueles que se deixavam embalar por ele, mas a repulsa se transformava em raiva. Reuniam-se em bandos, primeiro com tochas, depois com telas luminosas. Marchavam na rua e também no invisível das redes, multiplicando símbolos, palavras de ordem e ameaças.
Falavam em pureza, em defender fronteiras, em erguer muros contra estrangeiros. Rejeitavam alianças, zombavam de tratados, proclamavam que bastava a força e a vontade.
Maria os olhava com receio. Sabia que usavam seu nome como estandarte, mas não reconhecia neles a raposa que a aconselhava nem o vento que a guiava. Eram mais próximos dos lobos que sempre a cercaram: não buscavam caminhos, mas alvos; não queriam livrar-se de restrições, mas guerrear. Começaram a arrancar nomes das pontes e no lugar colocaram números. Onde faltam nomes, sobram alvos.
As duas irmãs, sem saber uma da outra, visitaram, em tempos diferentes, três casas do século XIX. Em uma, vivia um conde sem exército que sonhava organizar os ofícios do mundo como um coral de trabalhadores; em outra, um homem de jaqueta escura que colecionava ordens e classificações, convencido de que uma sociedade poderia ser guiada como um observatório; na terceira, um relojoeiro das engrenagens históricas, para quem os ponteiros eram as classes e o tempo estava cativo da necessidade. Em todas, o preço era miúdo e antigo: sacrificar o presente para comprar um amanhã impecável.
Anne ficou tentada por aqueles planos totais. Já Maria ficou dividida, parte de si também considerou tais projetos tentadores, mas outra parte lhe advertia que os sacrifícios exigidos não valiam a pena, pois o futuro é incerto e os seres humanos não sofrem hipoteticamente: suas dores são reais, de pessoas reais e não ideais.
Mais tarde, em uma praça de pedra, viram homens de passos iguais, que erguiam queixos e slogans, vestidos de símbolos. Pareciam oferecer sentido aos que tinham fome de pertença. Seduziram cidades inteiras — até que, quando lhes pediram pão, ofereceram garras.
Ao longo das jornadas, três vozes lhes falaram em tempos diferentes. A primeira vinha de um homem que via o mundo em formas perfeitas: os ideais, dizia, podiam se ajustar como reflexos de um modelo oculto. A segunda era a de um mestre das proporções, que caminhava no centro de uma estrada com um compasso na mão: os fins humanos eram compatíveis, bastava a justa medida. Essas duas vozes eram apenas ecos que já circulavam pelo mundo há dois mil anos – como sólida filosofia perene – sentenciando: não existem ideais contraditórios.
Muito tempo depois, ouviram uma terceira voz: a de um letão que se estabelecera na cidade das Torres dos Sonhos, na grande ilha que a maré separa e a história conecta. Fixou-se sob torres envoltas em névoa, erguidas no longínquo ano de 1096. Sua lição não prometia consolo: alguns ideais chocam-se irremediavelmente; escolher um é renunciar a outro; como os valores colidem, a política é arte de escolhas trágicas, não de engenharia perfeita; por isso temos que fazer escolhas e acordos constantes para que as pessoas se entendam e a civilização se mantenha. São acordos sempre frágeis, necessitando vigilância e renovação constantes.
Maria e Anne reconheceram nesse sussurro uma sentença: ainda que desejassem o mesmo destino, seus caminhos jamais seriam um só.
Se Anne tinha Pisinoe a lhe conferir um poder perigoso, Maria, por sua vez, tinha uma espécie de duplo poder, ou dupla personalidade: um lado negativo e um positivo, que estavam sempre em conflito. Seu lado negativo conferia uma espécie escudo a quem o invocava: garantia a inexistência de impedimentos ou coerções externas, mesmo por parte do todo-poderoso Estado; seu lado positivo conferia a posse de recursos para controlar o próprio destino e realizar-se.
Anne só se interessava pelo lado positivo de Maria, mas o lado negativo dela a repelia. Maria, por sua vez, entendia que aquilo que Anne representava estava ao alcance de todas as pessoas, bastava deixar-lhe livre o caminho que uma espécie de mão invisível faria o resto. Maria se esforçava por deixar prevalecer seu poder negativo, acreditando fielmente naquela mão invisível como baliza para tudo, mesmo ciente dos riscos dos lobos – eles se interessavam especialmente por esse lado negativo dela.
No Oeste, Maria oferecia espaço — um território onde ninguém mandava além do próprio passo. O vento das pradarias sussurrava que dignidade custa risco. No Leste, Anne oferecia guia — caminhos traçados, pontes para que ninguém ficasse para trás. As cidades sussurravam que justiça custa restrição.
As duas, cada uma em seu rumo, no entanto sofriam da mesma solidão: Maria com seus lobos, Anne com sua sereia. O mundo as ouvia, mas nenhuma delas estava inteira.
Foi apenas em terras setentrionais que Anne e Maria puderam, por instantes, aproximar-se. Ali, entre fiordes que fatiavam a terra e auroras que riscavam o céu como véus coloridos, a força que as repelira desde o nascimento se tornava mais branda. Talvez fosse o frio, que aproxima até os contrários, talvez fosse apenas o silêncio das montanhas que não aceitam disputas.
Ali, por costume antigo, quem falava repetia com justiça o que o outro dissera — antes de responder. E, numa noite, leram nomes na praça; a sereia perdeu um tom, e um lobo fechou a boca.
Um pescador daquelas paragens jurou até mesmo ter visto as duas caminhando de mãos dadas sobre a praia estreita, enquanto deixava seus peixes secando ao vento salgado. Contou isso na aldeia, mas riram dele: diziam que era invenção, como tantas outras histórias de pescador. Ainda assim, seu testemunho se espalhou como lenda.
E talvez fosse mesmo invenção. Mas alguns, ao ouvirem o relato, sentiram no peito uma esperança secreta: a de que, em algum lugar distante, as duas ainda pudessem caminhar juntas, mesmo que só por um instante.
Dizia ele também, em suas conversas de taberna:
— É estranho que de duas mães tão belas tenham surgido descendências tão corrompidas. Uma deu origem a bandos que marcham com tochas e símbolos, desejosos de muros e pureza. A outra alimentou discípulos que se ajoelham diante de fórmulas e dogmas, acreditando que as palavras valem mais que pessoas.
Enquanto esses rebentos disputam quem grita mais alto, ninguém mais escuta as mães. E assim, o que nasceu para ser fundamento, tornou-se ruína.
De fato, as duas se encontraram naquelas paragens frias. Anne, ainda envolta no canto de Pisinoe, com o ouriço enroscado na saia, sussurrou ao ouvido da irmã o que mais desejava: um mundo em que ninguém fosse esquecido, em que cada voz tivesse abrigo, em que não existisse ninguém sem letras, teto ou pão. Maria, com a raposa a seu lado, respondeu baixinho que seu sonho era exatamente o mesmo, mas no seu mundo cada pessoa caminharia sem correntes até conseguir, sozinha e por seus próprios meios, atingir tais objetivos.
Surpresas, perguntaram-se como podiam desejar a mesma coisa e, ainda assim, repelir-se.
Maria disse:
— Eu creio que cada um deve chegar por si, sem que ninguém imponha o caminho.
Anne respondeu:
— Eu creio que só chegaremos juntos, ainda que precisemos guiar uns aos outros.
O silêncio entre elas pesou como neve. Reconheciam-se indispensáveis, mas incompatíveis. O magnetismo da Moeda, mesmo enfraquecido, ainda as afastava. E, no entanto, o sussurro de ambas continha a mesma centelha: o desejo de um mundo melhor, apenas trilhado por estradas diferentes.
Foi nesse instante que aceitaram a fatalidade: não poderiam se unir, mas poderiam caminhar lado a lado. A proximidade não apagava as diferenças, mas as tornava suportáveis. Descobriram, enfim, que a única reconciliação possível era a tolerância, mas isso não era possível enquanto existissem assim, extraídas da Moeda, como entidades autônomas.
Separadas, corporificadas, transformavam-se em entidades quase divinas, objeto de verdadeiro culto humano. Inicialmente sentiam orgulho e vaidade e queriam o maior número possível de fiéis. Mas depois de tantas andanças pelo mundo, perceberam que, separadas, causaram mais sofrimento do que benefícios, mais guerras do que paz, mais cisões do que união.
Então as duas se olharam — não com rancor, nem com ternura, mas com o reconhecimento silencioso de quem cumpriu um ciclo.
O vento começou a soprar de um modo novo, morno, cheio de presságios.
As duas estenderam as mãos, e de seus corpos começou a desprender-se um pó dourado, tênue, luminoso.
Era como se a própria luz do sol se desfizesse em grãos minúsculos.
As duas se dissolveram completamente. Um pó dourado se elevou, girou sobre as cidades e sobre os campos, entrou pelas janelas, pelas bocas, pelos olhos.
Tocou reis e mendigos, crianças e soldados, sem distinção.
E quando tudo enfim se aquietou, já não havia mais Maria nem Anne — apenas a poeira fulva assentando-se nos ombros do mundo.
Dizem que, desde então, cada pessoa traz em si uma partícula desse brilho: Maria e Anne já não reinam fora, mas ardem dentro.
E quem tentar possuí-las por inteiro — transformá-las de novo em Moeda — repetirá o erro primordial: trocar o ouro vivo da alma pela frieza do metal.
Mas evitar esse erro exige um esforço constante. Infelizmente se trata de um erro cíclico, que sempre retorna para atormentar a humanidade. A vigilância exige uma atenção concentrada.
Os deuses, porém, amam o metal e nos tentam a refundi-lo, para cunhar novamente imagens naquela Moeda vazia. Resistir é ofício de Sísifo: reerguer, em silêncio, a pedra do discernimento a cada manhã.
E sem o silêncio não se consegue uma concentração atenta. Mas o mundo inventou redes de ruído — coros que cantam em frequências separadas. Cada coro tapa os ouvidos para o canto vizinho e, no escuro, ergue grupos e altares.
Esta é a mecânica íntima da polarização: ruídos que se reforçam, altares que se erguem.
Infelizmente o ruído vem aumentando sem cessar e a resistência de Sísifo perde força a cada dia. Já se ouvem gritos de grupos clamando, uns por Maria, outros por Anne. A Moeda treme, o dourado, inquieto, torna a circular e pode tocá-la novamente. Se a tocar, as duas podem voltar para a Moeda e dela sair outra vez.
Se voltarem, guardarão as lições do primeiro nascimento? Só os deuses o sabem. E nós, teremos aprendido? O silêncio dirá.
E Filotes? Sabiamente escolheu ser pó antes de todas. Dizem que suas fagulhas continuam espalhadas, invisíveis, esperando a próxima catástrofe. Quando o chão tremer e os homens se procurarem de novo, talvez ela ressurja, lembrando que cada cinza teve um rosto, cada número um nome, cada cadáver uma mão que já apertou outra mão.
Porto Velho, maio de 2025.
M. – Liber Sum.
Sobre o ensaio filosófico de Isaiah Berlin a respeito do aforismo do poeta grego Arquiloco sobre o ouriço e a raposa, veja: https://comunidadeculturaearte.com/o-ourico-e-a-raposa-o-livro-mais-importante-de-isaiah-berlin-e-publicado-pela-primeira-vez-em-portugal/
Leia também o conto do autor: Correntes Cósmicas
Comentários
Você pode enviar comentários sobre este conto usando seu nome ou um apelido.
Seu e-mail não será exibido publicamente.
Para preservar o ambiente do Liber Sum, todos os comentários são lidos e aprovados por M. – Liber Sum antes de serem publicados.

Pingback: The City of the Holly Grove – a decadência estética
Pingback: realismo jurídico e a imposição pelo fato (2025)
Pingback: Mitologia Grega antiga (2025)
Pingback: Correntes Cósmicas – Paradoxo de Fermi e a fragilidade civilizatória (2024)
Contos que nos fazem repensar nossos conceitos e forma de ver e entender aquilo que nos é ainda incompreensível. Leitura totalmente diferente das muitas que li, me pego muitas vezes viajando na frase: Reerguer ,em silêncio , a pedra do discernimento a cada manhã,. É de uma profundidade. Bem, se eu continuar a escrever sobre o site e seus contos, acho que escreverei um livro ….Leiam, vale cada segundo ! Parabéns ao autor!!!
Leitura maravilhosa!
A qualidade da escrita é notável, com um nível de maestria que supera todas as obras que tive o prazer de ler até hoje. Sem dúvidas: declaro este meu autor favorito 🤩
Pingback: Labirinto de Id – dupla personalidade nas redes (2025)
Pingback: BR-364 – um conto sobre um andarilho na estrada